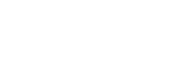Você só lê o que considera extremamente “útil”? Ou se dá ao luxo de ler o que te dá prazer?

Por Letícia Lopes Ferreira
“Se elas quisessem fazer algo útil, teriam feito crochê”, Emily Dickinson responde à mulher do reverendo, que acabara de argumentar que as irmãs Brontë deveriam ter feito algo mais útil do que “aquele pessimismo de Yorkshire”. É uma cena do filme Além das Palavras, que retrata a vida da poeta norte-americana. O reverendo havia pedido a ela uma opinião sobre o trabalho de outro poeta, Longfellow, e ela havia definido como “fatigante” uma das mais celebradas obras daquele poeta, “A Canção de Hiawatha”, o que provocou protestos da esposa do reverendo. Dickinson disse preferir as irmãs Brontë, que falam “a verdade”. Como é bom discorrer sobre o trabalho dos outros.
Mas a obsessão na literatura pelo que é útil, pelo que acrescenta, é muito chata. Aliás, tudo que tenta definir o que a literatura ou a arte deve ser ou para que deve servir é muito chato, pretensioso. Ainda assim, aqui estou eu, discorrendo sobre o assunto. É que a cena do filme entre a personagem baseada na poeta e a esposa do reverendo me fez pensar em quantos livros inúteis já li apenas pelo prazer de ler – a maioria, na verdade – e entre esses, penso naqueles que foram desprezados pela crítica ou pelas autoridades em literatura. Ou pelo público.
Um deles, que por anos foi meu livro mais amado, é Nina 1940 – uma crônica de amor, da francesa Christine de Rivoyre. O equívoco já começa nesse título, que eu mesma desprezo. Originalmente – não consegui descobrir quando, mas deve ter sido nas primeiras décadas do século 20 –, o livro foi lançado no Brasil com o título Antes do Amanhecer, que tem muito mais a ver com o título do original em francês, Le Petit Matin. O título pelo qual o livro ficou – pouco – conhecido no Brasil se deve à adaptação para o cinema, que veio ao país em 1971 e não fez grande sucesso.
Nina 1940 conta a história da Nina, uma adolescente que vive em uma cidadezinha no litoral da França na época da ocupação nazista. Quando eu li essa história pela primeira vez, eu não era mais adolescente, não cronologicamente, mas me sentia tão isolada (como a maioria dos adolescentes, julgo), perdida e com medo quanto a Nina, e talvez por isso – será que talvez só por isso? – o livro tenha me parecido tão tocante e até hoje eu não tenha conseguido me desvencilhar daquela sensação. Já reli várias vezes, outra vez antes de escrever este texto, e as emoções são sempre as mesmas, embora matizadas por novas experiências e novos conhecimentos. Quando o livro termina, tenho vontade de aplaudir.
O livro é bem escrito, ganhou um prêmio interessante na França, em 1968 (o Interallié), e muito bem traduzido. Em português, conta com a bela tradução de Tati de Moraes, ou Beatriz Azevedo de Mello de Moraes que, além de tradutora, foi crítica de cinema, jornalista e, menos importante, a primeira esposa de Vinícius de Moraes. Mas não conheço ninguém que o tenha lido, daí a dificuldade de trocar impressões. Li algumas críticas populares, principalmente do país de origem da autora, algumas que reclamam do ritmo do texto. A narradora é a Nina, e o texto segue o ritmo dos pensamentos dela, ora em flashback, ora cronologicamente, com trechos em que as falas dos personagens e da própria Nina se misturam à narrativa, às descrições, aos pensamentos da moça. Para mim, poesia; para alguns outros leitores, confusão.
A história, confesso, não é das mais originais. Nina é órfã de mãe, vive em sítio velho, adora cavalgar e é criada por um pai terrivelmente amoroso e uma tia e uma avó terríveis, que a detestam. Meio gata borralheira. Que ela ainda viva com o primo, dois anos mais velho, e seja louca por ele também não é muito original. Que entre os oficiais alemães apareça um bonitão sensível que vire a cabeça da menina realmente não é nada original. Tudo misturado a rios, praia, árvores… Hoje eu releio e penso: será que eu amo tanto uma história inútil, banal? Uma história sobre uma garota que, como a maioria das garotas, e como eu li na crítica de um cara do País Basco, só estava louca para ser “desvirginada” (para usar uma palavra mais ortodoxa do que a que ele usou) e, “ainda por cima, foi escrita por uma mulher” (palavras do nosso companheiro leitor basco)? Uma história tipo “Julia” ou “Sabrina” com uma prosa apurada, fatos históricos, enredo sofisticado?
Não. Eu sei que Nina 1940 é muito mais do que isso. Rivoyre nos conta, no meio dos amores de Nina, que às vezes é preciso uma guerra, ou algum distúrbio não tão violento (às vezes bastam eleições), para descobrirmos que nosso algoz mora no vizinho, no primo, na tia ou no amigo. Às vezes, nem é preciso violência, depende apenas de para onde o vento sopra. Isso é banal? Deve ser.
A autora também parece nos acenar que o livre-arbítrio e a liberdade são ilusões derrotadas não somente por forças externas a nós, como eram os ocupadores do país e da casa da Nina, mas internas, como as paixões, os medos da Nina e tudo o que ela sabia e não podia saber. Como muitos jovens, e talvez os não tão jovens, Nina não sabe a quem pertencer, se é que deve pertencer a alguém. Sua condição de mulher a impede de fazer a própria vontade, como o primo faz a dele, porém, nem mesmo Karl, seu oficial nazista – o homem, o ocupador – tem domínio sobre a própria vontade ou mesmo a própria vida. Talvez essa seja uma das maiores banalidades do livro.
Talvez Nina 1940 – uma crônica de amor seja um pouco adolescente ou seja um pouco para adolescentes, e eu tenha gostado tanto porque era ainda uma adolescente aos vinte e poucos anos, quando o li pela primeira vez, e ainda ame esse livro porque aquela parte adolescente que me resta o acha tão bonito. Quem sabe o seu lado adolescente, leitor/leitora, possa se deixar também seduzir pela história da Nina, mas pode ser que também ache, como o leitor do País Basco, que é uma historinha banal para mulheres. Eu não acho que a adolescência ou as histórias para mulheres sejam banais, mas depois você pode me contar o que você acha. Ou fazer como minha professora de mestrado, a quem eu dei de presente um exemplar em francês de Nina 1940, e me deixar no silêncio – ou no vácuo, como dizem hoje os adolescentes.

Letícia Lopes Ferreira é jornalista, mestre em Letras e ama livros e filmes.